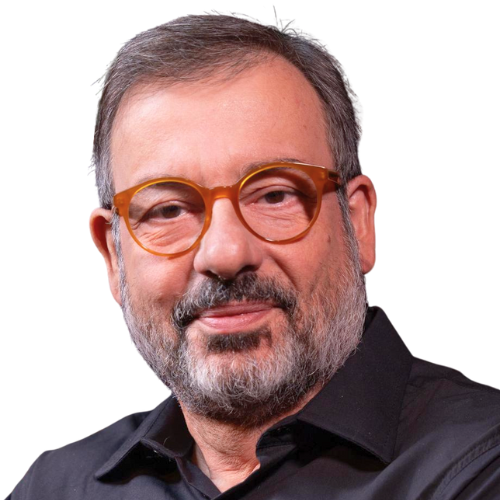A Semana da Criança, comemorada entre os dias 13 e 17 de outubro, terá a atenção da Câmara dos Deputados, que promete votar um pacote de projetos voltados à proteção da infância no mundo digital, assunto frequente na conversa de pais e educadores. Será um primeiro esforço coordenado do Legislativo para atualizar a proteção infantojuvenil à realidade das redes, ambiente essencial mas perigoso; emancipador mas predatório.
Entre as proposições estão a criação da Política Nacional de Proteção à Primeira Infância Digital (PL 1971/25), a regulamentação da atividade de influenciadores infantis (PL 3444/23) e o uso de algoritmos para identificar crimes virtuais contra menores (PL 3287/24). O grupo de trabalho responsável pela pauta já identificou mais de 238 proposições relacionadas ao tema e recomenda inclusive que a negligência digital, quando pais ou responsáveis deixam crianças à deriva na internet, seja enquadrada como forma de abandono.
É um avanço necessário. Mas como quase tudo no Brasil, o avanço chega tarde, trazido pela voz solitária do influencer Felca, chega devagar e chega com lacunas preocupantes.
A urgência de atualizar o ECA ao século XXI
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi concebido em um mundo em que o computador ainda era artigo de luxo e a internet um sonho acadêmico. Passado tanto tempo, hoje as crianças nascem em um mundo exclusivamente digital, alguns até acessam a rede antes mesmo de aprender a ler. Segundo o Comitê Gestor da Internet, no Brasil, 83% das crianças de 9 a 17 anos estão conectadas, porém a legislação continua a tratá-las como sujeitos a proteger apenas no espaço físico.
A proposta de reconhecer o abandono digital como forma de negligência é, nesse sentido, disruptiva. Ela estende a lógica protetiva do ECA ao território virtual, equiparando a omissão no mundo online à omissão no mundo real. É a tradução normativa de uma obviedade sociológica: deixar uma criança sozinha na internet é tão, ou mais arriscado quanto deixá-la sozinha na rua.
Mas, apesar dos méritos, as propostas trazem pontos que merecem atenção crítica. O PL que trata dos influenciadores infantis, por exemplo, precisa estabelecer parâmetros claros: qual o alcance mínimo para que uma conta seja considerada atividade profissional? Que tipo de conteúdo caracteriza exploração comercial? Sem essa precisão, abre-se espaço tanto para a omissão de grandes plataformas quanto para a criminalização desproporcional de adolescentes comuns.
O uso de sistemas automatizados para identificar crimes virtuais, pode ser ferramenta poderosa, porém torna-se imperativa a adoção de transparência, auditoria independente e mecanismos de recurso. Sem isso, corre-se o risco de falsas acusações e violações de direitos fundamentais, como a presunção de inocência e a liberdade de expressão. É preciso lembrar: algoritmos são produtos humanos e, portanto, carregam vieses humanos.
Ainda que o grupo de trabalho tenha dialogado com gigantes como Google, Meta e TikTok, não há clareza sobre os mecanismos de co-responsabilização previstos. A experiência internacional, especialmente na União Europeia com o Digital Services Act (DSA), mostra que a regulação eficaz exige deveres objetivos de moderação, relatórios periódicos de risco e multas pesadas por descumprimento. Sem instrumentos concretos, a lei corre o risco de se limitar ao papel.
O esforço legislativo atual é relevante, mas ainda está longe de um marco robusto. Faltam três pilares centrais:
A educação digital obrigatória nas escolas e programas de capacitação para famílias, pois a proteção não se resume a polícia e punição, envolve alfabetização crítica e uso consciente. É necessária também a formulação de uma política nacional de dados infantis, garantindo que informações de menores sejam tratadas com padrões mais rigorosos de privacidade, coleta e uso, à semelhança do que já ocorre no GDPR europeu. Além da integração federativa e orçamentária, para que a aplicação da lei não dependa exclusivamente da boa vontade dos municípios ou da capacidade técnica de órgãos isolados.
O debate que se abre nesta Semana da Criança é importante e merece ser levado a sério. O problema é que, no Brasil, boas intenções legislativas costumam morrer na praia da má regulamentação ou do desinteresse político.
Não basta votar leis com nomes bonitos e diagnósticos corretos. É preciso garantir que essas leis possam ser aplicadas, que tenham critérios técnicos precisos, que dialoguem com a realidade tecnológica em rápida mutação e que respeitem as liberdades fundamentais, afinal, legisladores analógicos não estão preparados para legislar em um mundo digital.
A infância digital brasileira precisa, sim, de proteção, mas uma proteção eficaz, livre do paternalismo improvisado. Se o Congresso conseguir transformar a Semana da Criança em ponto de viragem institucional, estaremos diante de um marco civilizatório. Caso contrário, será apenas mais um capítulo do nosso teatro legislativo: muitas palmas, pouca mudança.